por Ricardo Mesquita, psicólogo
Nunca se falou tanto sobre saúde mental — e, ao mesmo tempo, nunca pareceu tão difícil entender o que a gente sente.

O roteiro é quase sempre o mesmo: você desbloqueia a tela, o algoritmo assume o volante, e lá vem a sequência. Um vídeo sobre ansiedade. Outro sobre TDAH. Mais um sobre autismo. A trilha é boa, a legenda pulsa no ritmo da pupila, e a frase acerta em cheio. Em segundos, o anzol fisga: “Meu Deus, sou eu.”
E pronto. A identificação acontece. O scroll vira espelho. Informação não falta — personalização, menos ainda. As plataformas não só mostram o que você busca, elas farejam o que te angustia. Quando um vídeo acerta o ponto, quando sessenta segundos conseguem nomear um caos que você não conseguiu dizer em meses, nasce um sentimento misto: alívio e bagunça. Alívio por finalmente encontrar um nome; bagunça ao perceber que esse nome cabe em muita gente. É nesse intervalo, entre reconhecer-se e rotular-se, que o autodiagnóstico digital floresce.
Um estudo publicado em 2025 na Acta Psychologica acompanhou jovens entre 16 e 25 anos no primeiro contato com serviços de saúde mental. O dado que mais chama atenção: todos já tinham consumido conteúdo sobre o tema nas redes antes da consulta. E 71,4% chegavam convictos de um diagnóstico que nunca tinha sido confirmado clinicamente. O principal berço dessa certeza? As plataformas. O YouTube, especialmente, apareceu ligado ao aumento do autodiagnóstico — talvez porque mistura didatismo com edição caprichada e cara de rigor científico. Sensação de aula; substância de recorte.
CONFIRA A VERSÃO EM VÍDEO NO NOSSO INSTAGRAM
Mas antes de qualquer crítica, vale reconhecer o que existe por trás disso: um desejo legítimo de compreender-se. Nomear a dor é um ato de coragem. O problema é quando essa nomeação acontece longe de escuta, de contexto e de validação técnica. Aí o diagnóstico vira espelho torto — reflete menos quem a gente é e mais o que o algoritmo quer mostrar.
O mesmo estudo traz uma contradição interessante: quanto maior o consumo de conteúdo sobre saúde mental, maior o desejo de obter um diagnóstico formal. À primeira vista, parece ótimo — afinal, é sinal de interesse e busca por ajuda. Mas no consultório o efeito é outro: muita gente chega querendo confirmar o que viu online. Quando essa confirmação não vem, o que aparece é frustração, resistência… e, às vezes, desconfiança.
E há um motivo afetivo por trás disso. Para 85% dos entrevistados, o diagnóstico importa não só pelo que explica, mas pelo que valida. “Agora sei que o que sinto é real.” “Encontrei gente como eu.” “Minha família me entende melhor.” Tudo legítimo. O risco começa quando o diagnóstico deixa de ser instrumento clínico e vira crachá de pertencimento — uma etiqueta que passa a organizar quem a pessoa é, o que ela sente, e até o que ela pode ser.
O filósofo Ian Hacking chamou isso de looping effect: as categorias criadas começam a moldar aqueles que as recebem. Nas redes, esse efeito ganha megafone. O algoritmo premia repetição, transforma linguagem técnica em dialeto de grupo. Hashtags como #ADHDLife e #MyDepressionLooksLike acolhem e conectam, sim — mas também podem criar subculturas de patologização, onde a dor rende engajamento. Pra alguns, é bálsamo. Pra outros, prisão. E a pergunta que fica é dura: se a dor me define… quem eu sou quando ela melhora?
Na clínica, o diagnóstico é lente que amplia, não funil que estreita. O problema é que o ambiente digital simplifica o complexo, dramatiza o sutil e estetiza o sofrimento. Em neuropsicologia, a gente chama isso de assimilação identitária do sintoma — quando o rótulo passa a fazer parte do “eu”. O cuidado ético, nesse caso, é duplo: não invalidar o sofrimento, mas também não alimentar a crença de que ele é tudo o que existe.
A pesquisa do First Episode Mood and Anxiety Program, mostra algo semelhante: as redes não apenas informam, elas influenciam o próprio modo de adoecer. O psicólogo Nick Haslam chama isso de concept creep — o alargamento dos conceitos. “Trauma”, “crise de ansiedade”, “transtorno” viram nome pra tudo. O resultado? Uma névoa entre sofrimento humano e patologia clínica. E somado à dieta de vídeos curtos — atenção recortada, estímulo acelerado, tédio insuportável — o paradoxo é cruel: as mesmas plataformas que prometem explicar TDAH podem intensificar desatenção e impulsividade.
A verdade é que a gente não está só consumindo conteúdo sobre saúde mental. Estamos sendo moldados por ele. Vivemos a era do saber-espetáculo, onde psicologia, psiquiatria e neurociência viram pílulas de trinta segundos. Tudo é feito pra emocionar — não pra aprofundar. E divulgar ciência é essencial, claro. O perigo é quando o discurso clínico vira entretenimento, e o que exige tempo e vínculo passa a ser digerido como identificação instantânea. E identificação, embora conforte, não é o mesmo que elaboração.
A clínica não é um vídeo.
Ela é feita de demora, de silêncio, de contradição.
Enquanto o algoritmo caça coerência, o terapeuta acolhe dúvida.
Enquanto a rede busca previsibilidade, o cuidado se constrói na incerteza.
O papel do profissional de saúde mental nunca foi tão necessário — não pra disputar atenção com o feed, mas pra religar pessoas ao ritmo humano da compreensão. Quando o diagnóstico nasce de escuta ética e contexto, ele liberta. Dá nome ao que era ruído. E abre caminho pra um cuidado de verdade.
No fundo, o autodiagnóstico digital fala menos de doença e mais de solidão. Buscar um nome é, muitas vezes, buscar pertencimento. Dizer “eu existo” e “isso faz sentido”. Só que, nas redes, o sentido vem pronto — sem história, sem nuance, sem rosto. Cada pessoa tem um jeito único de sofrer, reagir, resistir. E é justamente isso que os algoritmos não leem: eles caçam padrão; a psicologia procura exceção.
Entre o scroll infinito e o silêncio da sessão, existe uma diferença essencial.
Na rede, viramos consumidores de diagnósticos.
Na clínica, voltamos a ser sujeitos de histórias.
A tecnologia não é inimiga do cuidado — ela só precisa de tradução clínica.
O desafio é construir pontes entre o digital e o humano.
Pontes que devolvam profundidade ao olhar, responsabilidade ao discurso.
Diagnóstico não deve limitar; deve abrir.
O nome da dor importa, sim.
Mas é o que fazemos com ele que transforma.


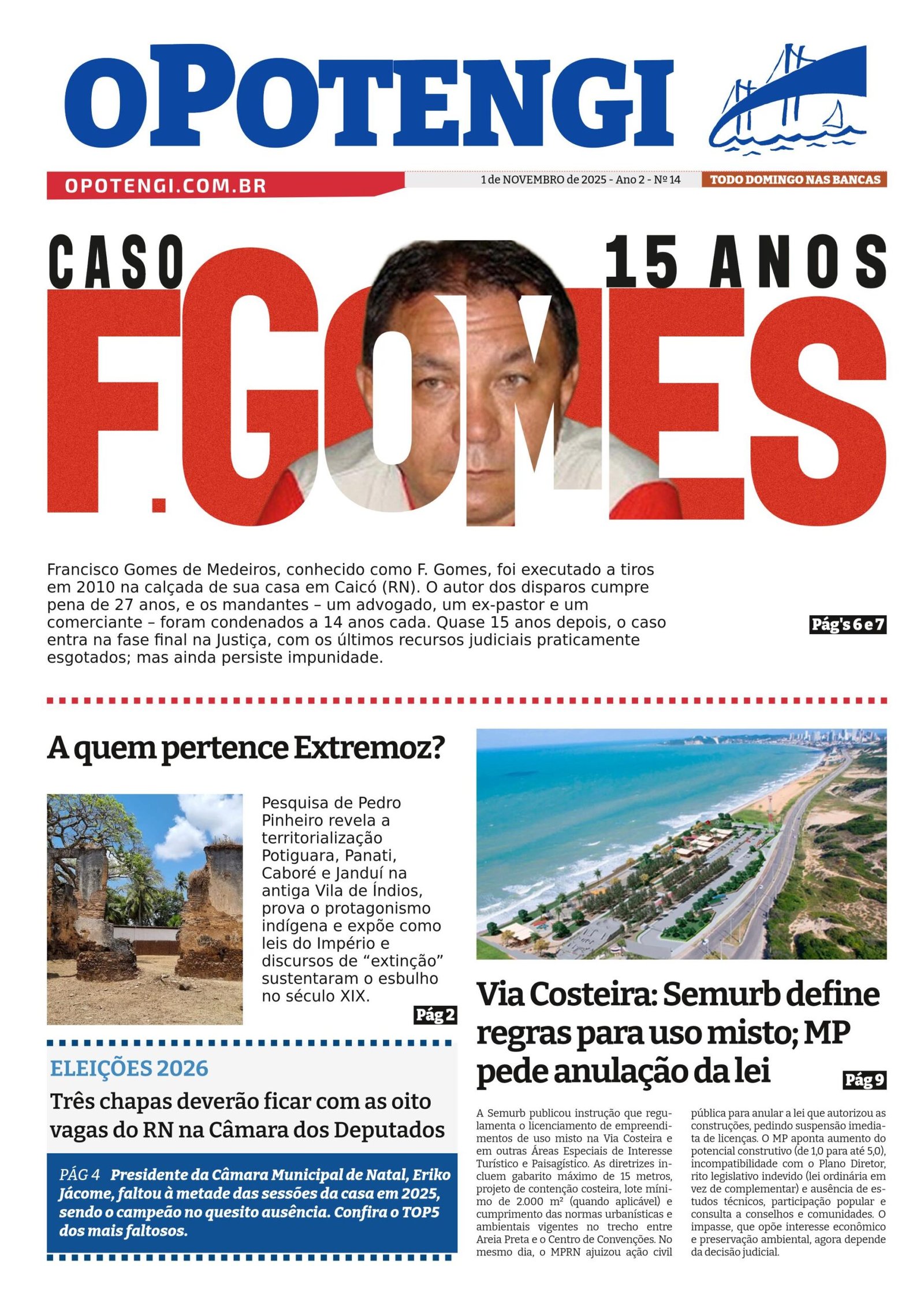
Deixe um comentário